| ... a defesa das ideias |
| |
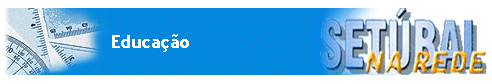 |
| Às quartas • 26/09/2001 |
 por
José Victor Adragão por
José Victor Adragão(Professor da ESE)
Em 1976, com as correcções que o tempo impunha, de novo se publicou a mesmo letra A. Só há pouco tempo, nos últimos dias do século XX, é que tivemos direito à obra completa, 207 anos depois do seu início. Esta edição, saudada com alegria por quantos a ela estiveram ligados, motivo de condecoração para o seu principal responsável e objecto de controvérsias acesas e animadas, merece que se façam alguns comentários. Porquê tanto alarido? Não tínhamos outros dicionários? O que vale este dicionário? Em última instância, o que vale um dicionário? Um dicionário é um “livro de referência em que se fornecem informações, com a categoria gramatical, as acepções, os registos, a forma correspondente noutro idioma..., sobre palavras e expressões de uma língua, apresentando-as de acordo com uma ordem convencional, geralmente alfabética”[1]. Dentro desta definição, aparentemente clara e fácil de compreender, esconde-se um problema altamente complexo e delicado para quem se abalança a fazer um dicionário: a escolha das palavras que nele devem entrar. Na verdade, são inumeráveis as palavras de uma língua: desde as antigas que já caíram ou estão a cair em desuso às mais recentes criações e importações, desde as que são de uso generalizado no espaço geográfico que nos interessa às que são típicas de uma ou outra região... Que palavras escolher? E, depois, qual o espaço geográfico que realmente nos interessa: Portugal ou o espaço da língua portuguesa (os novos países, os territórios que já foram portugueses, os espaços densamente povoados por emigrantes nossos...)? E, ainda, em que acepções tomar estas palavras: nas denotações mais evidentes e comuns, ou nas variantes que o uso frequente lhes tem criado? Quem decide? Quem assume a responsabilidade da escolha? Temos aqui, por certo, a primeira virtude deste dicionário. Ao contrário de outras anteriores, saídas da cabeça de autores isolados[2] ou de equipas de trabalho aturado, esta obra tem a chancela da mais prestigiada associação de 'sábios' do nosso país, a cujo contributo explicitamente recorreu e cujo nome expõe aos comentários e críticas dos vindouros. Foram construídas 69 426 “entradas lexicais” (tomadas em 167 556 acepções), o que corresponde a 240 680 vocábulos, presentes em 4 580 029 ocorrências. A eles se acrescentam 22 169 combinatórias, grupos de palavras que, quando se juntam, criam novos e diferentes sentidos. Está tudo aqui? A escolha apagou-se atrás da decisão de dicionarizar todas as palavras da língua? Não, e os autores explicam-no detalhadamente na Introdução: há muitas outras que não tiveram a “honra” de entrar nestes dois volumes por muitas razões que são enunciadas e assumidas, e com as quais podemos ou não concordar. Tal como podemos discordar do critério que levou a incluir outras tantas... Mas se, mesmo naquilo que nos passa ao lado, gostamos de “botar a nossa sentença”, quanto mais numa coisa tão nossa como a língua que herdámos, que usamos e que transmitiremos aos nossos netos? Aqui, mais do que em qualquer outra área, a unanimidade de opiniões seria impossível. Claro que alguns pomos de discórdia são mais partilhados do que outros quando se faz uma leitura deste dicionário... E algumas das bandeiras mais aguerridas são empunhadas não por quem o leu mas por quem “ouviu dizer”. Costumes nossos... Mas antes de passar às possíveis críticas, vejamos outras das virtudes da obra, respigadas a partir das intenções expressas pelos responsáveis. A ordem dos meus comentários é aleatória e da minha própria responsabilidade. O dicionário, mais do que um simples registo que seria chamado a ser, assume-se como “obra de orientação idiomática”, isto é, como uma espécie de manual da língua, depósito de informações úteis a quem a usa, a quem a estuda, a quem a aprende. E, nesse aspecto, inclui: - transcrições fonéticas de todas as entradas lexicais e, muitas vezes, das suas variações (plurais, femininos, etc.), - registos de sinónimos e antónimos relacionados com cada uma das acepções em que as palavras são tomadas, - indicações sobre o uso correcto de preposições, conjunções, advérbios, - etimologias correctas e, quanto possível, completas, - informações gramaticais, designadamente sobre situações de irregularidade, - apresentação de expressões que só se usam na linguagem oral ou que têm um sentido especial quando utilizadas oralmente, - abonações abundantes (33 436), isto é, referências bem identificadas a situações em que os mestres da literatura portuguesa dos dois séculos passados (e alguns periodistas actuais de prestígio) utilizaram esta ou aquela palavra. Alguns destes aspectos, e só citei alguns dos muitos possíveis, são totalmente inovadores no horizonte português, se não na sua emergência pelos menos na forma criteriosa como foram tratados. É certo que algumas críticas seriam possíveis: a escolha da variedade preferida para a transcrição fonética, a opção por esta ou aquela acepção do termo em detrimento de outras, o evidente “urbanismo”... No entanto, o aspecto mais delicado deste dicionário, aquele que mais tinta tem feito correr (e mais bocas tem feito ouvir) prende-se ao aportuguesamento de estrangeirismos, campo em que os autores se aventuraram com ousadia – ainda que não tanto como a de que são acusados, uma vez que propõem frequentemente uma dupla grafia. Queiramos ou não, uma língua evolui e só quem não repara no mundo que o rodeia não se aperceberá que as sucessivas gerações não falam nem escrevem da mesma maneira. Sempre foi assim. Foi assim que passámos do sobrescrito ao envelope, da merenda ao lanche, da casa de pasto ao restaurante... A questão é que tudo isso nos pareceu natural, harmonioso. Mas agora surge-nos uma catadupa de palavras novas, ainda para mais dicionarizadas e, para cúmulo, numa obra editada pela Academia das Ciências!... É como se o céu nos caísse em cima da cabeça. Vejamos, porém. Em primeiro lugar, não é uma catadupa – não chega a um milhar. E, depois, nenhuma delas é novidade, saída da cabeça iluminada de algum académico – todas elas já são usadas e algumas há bastante tempo. E até registadas, como é o caso de bué, presente em dicionários desde 1995, pelo menos! Na realidade, foram escolhidas entre os quatro mil vocábulos estrangeiros que os autores encontraram nos jornais e escritores portugueses ao longos dos últimos seis anos. A questão não está aí mas na ortografia. A ortografia é a capa mais visível das nossas palavras. O som é importante mas não se ouve – e se surge diferente, logo o atribuímos a uma pronúncia defeituosa. Mas a escrita, meus senhores, a escrita vê-se! Todos se lembram ainda da querela nacional em torno da malograda reforma ortográfica que apenas alterava 4% das palavras portuguesas. A questão está em encontrarmos palavras como abajur, bibelô, brifingue, lóbi, plafom e, especialmente, stafe e stresse... (Já nos esquecemos dos tempos em que escrevíamos pharmácia, chímica e sublyme). Vale a pena ler as razões dos autores para, depois, concordarmos ou discordarmos delas. Apenas registo uma para deixar aos meus leitores algum desejo de adquirirem a obra e procurarem as outras: a questão gramatical. Como é sabido, temos uma regra de construção de plural que devemos respeitar – e a maior parte das palavras estrangeiras obrigava-nos a infringir essa regra para seguir a gramática inglesa ou a francesa. Ora a “alma” da língua está essencialmente na gramática, mais do que nas palavras que usamos. Usar palavras estrangeiras não é crime – poderá ser necessidade, ou moda; construir frases portuguesas com gramática alheia, isso sim, é uma lesão da língua. Mas há outras razões. E reconhecer a sua justeza não me impede, por exemplo, de estranhar que se tenha proposto a grafia stresse (e não setresse) e ignorado a forma brasileira estresse (tanto mais que se registou esporte ao lado de desporto)... Vai longa esta crónica e há que dar-lhe um fim. O
que vale este dicionário? Não tenho dúvidas em dizer que
vale muito, que a sua cotação na “bolsa” da lexicografia
portuguesa é sólida e naturalmente crescente com o passar
dos anos. E não só por ser peça rara na nossa panóplia
(omnia rara cara, diziam os latinos) mas porque
os defeitos que se lhe possam atribuir não chegam para
ensombrar o valor de uma obra há muito esperada e constantemente
adiada. E não posso deixar de cumprimentar os seus autores
que tiveram a coragem de “dar a cara” por ela. Se não,
talvez os nossos trinetos, daqui a mais uns cento e tal
anos, continuassem a esperar pelo “desejado”... [1] Ver “Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea”, Editorial Verbo, Lisboa, 2001 (I Volume, pág. 1250) [2] E quero aqui exaltar a excelente formação e o inegável contributo para a história e para a vida da língua portuguesa de homens como Cândido de Figueiredo, Morais e Silva ou Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, para só citar três dos nossos grandes dicionaristas. |