| ... a defesa das ideias |
| |
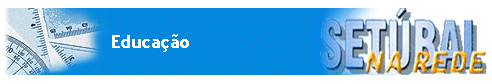 |
| Às quartas • 24/07/2002 |
 por
José Victor Adragão por
José Victor Adragão(Professor da ESE)
Fiquei a pensar. Tenho muitos anos destas andanças mas lembro-me bem da forma como aprendi, da forma como várias de gerações de professores ensinaram, da forma como ensinamos os nossos alunos a ensinar, da forma como hoje se ensina português. Que mudou? A língua continua a ser a mesma (com alterações superficiais, é certo), porque é língua e porque é a nossa. As questões continuam a ser as mesmas: como olhar para um objecto que é simultaneamente um instrumento de comunicação (e de trabalho), uma estrutura a desmontar e a apreender, um meio de expressão (por vezes, de expressão artística), um veículo de prazer mais ou menos lúdico, mais ou menos profundo. A estas, juntam-se outras, de índole psicológica e social, proveniente de ela ser, para muitos de nós, a língua materna: a ligação afectiva, a noção de herança recebida, a relação entre consciência linguística e consciência nacional, a articulação entre a auto-imagem psicológica e a auto-imagem linguística... Nada disto mudou. Se me detiver a olhar as diferenças entre o que se fazia e o que se faz, creio que o que salta aos olhos é a mudança de perspectiva de tratamento do facto linguístico. Explico-me. Quando eu era aluno, os sumários da aulas de português eram invariavelmente: “Leitura, interpretação e análise gramatical do texto...”. “Leitura” significava ouvir um colega ler em voz alta, melhor ou pior, um texto que ninguém tinha preparado (às vezes tinha-se a ideia de que talvez o professor o tivesse preparado uns cinco ou dez anos antes). “Interpretação” era discutir, em duas ou três pinceladas, as ideias do autor, depois de um conjunto de perguntas e respostas sobre quem tinha feito o quê, onde, quando e como. “Análise gramatical” era uma série enfadonha (e por vezes hermética) de questões e aprendizagens passivas acerca dos ses, dos ques, dos graus dos adjectivos, dos sujeitos, dos predicados, dos “apostos ou continuados”... Esta visão sincopada da língua ou, melhor, dos textos do manual permitia aos professores orientar o seu ensino de acordo com os seus gostos pessoais (para não dizer com o humor de cada dia): alguns passavam horas a divagar sobre as características estéticas dos seus autores preferidos, outros massacravam todos os dias os alunos com mais um complemento, com uma nova conjunção subordinativa... Que mudou? A meu ver a forma de apresentar a língua, como um todo, como um edifício em que as partes de suportam umas às outras, como um fenómeno em que os conteúdos são servidos pelas formas, numa relação coesa e coerente objectiva e partilhável. É isto o que se faz? Não sei. Pelo menos é isto o que os programas propõem que se faça. Em nome de uma apropriação da língua por parte de todos, como receptores e produtores de um bem essencial à vida pessoal e social. Foi este, essencialmente, o contributo que os linguistas trouxeram aos programas. Claro que a história tem vicissitudes e houve exageros e precipitações na aplicação de algumas teorias novas. Mas também o houve por parte dos defensores de renovados caminhos de análise literária... Hoje creio que se atingiu um razoável ponto de harmonia e de estabilidade. Por isso, a pergunta interessante seria: a culpa é dos programas? ou será antes das metodologias, das práticas, das motivações de professores e de alunos? E fica sempre no ar a questão que animava o debate: será por causa disto que os portugueses não lêem? |