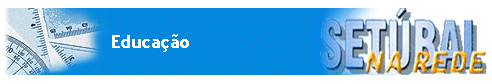Ciclicamente a educação e a escola são
objecto de profundas discussões. Discussões
muitas vezes alicerçadas entre um “discurso
catastrófico assente” na “crise” e um outro
(mais lúcido, minoritário e menos visível)
que, conhecendo a história da educação e os
diferentes tipos de políticas e actores
envolvidos, não ignoram os desafios
diferenciados que se colocam em cada época à
educação e à escola, procurando encontrar
outros olhares, referências e modos
organizativos para a afirmação de uma escola
pública como centro educativo e cultural
onde interagem mundos, actores e políticas
plurais.
O momento
que a sociedade portuguesa atravessa é
particularmente interessante e um bom
indicador da necessidade de ferramentas que
ajudem a enquadrar de outros modos as
temáticas predominantes, já gastas, pobres e
fastidiosas, assentes em quadros de
pensamento que afirmam que “os estudantes
não aprendem”, de que “a escola não ensina
nada”, de que a “educação assenta em
pedagogias românticas”, no “eduquês”, na
“livre escolha”, na “gestão
profissionalizada”, entre outros.
Na minha
perspectiva tudo isto está profundamente
viciado logo à partida. Viciado por três
razões principais. A primeira relacionada
com a designada ‘crise’. Só um profundo
desconhecimento da História da Educação em
Portugal, assim como a História da Educação
de outros países - e as diferentes políticas
que a corporizaram, é que explica o não
entendimento do confronto que caracterizou
as diferentes épocas, muitas vezes
alicerçadas em truísmos do tipo “no meu
tempo é que se aprendia”, “no meu tempo não
havia a indisciplina que existe agora”. A
segunda, nunca se exigiu tanto à escola como
organização e território de formação. Da
“escola como organização de acção social”, à
“escola como ocupação de tempos livres”, da
“educação sexual”, à “educação rodoviária,
para os media, ambiental, para a cidadania,
para a saúde”. Os exemplos multiplicam-se. A
terceira razão assenta no predomínio da
economia, das finanças e das lógicas de
mercado como modos de regulação social e
cultural sobre outro tipo de lógicas e
quadros de pensamento societários.
Neste
contexto, é urgente a necessidade de
recentrar a discussão em torno das
finalidades da educação e da escola que
ultrapassem os paradigmas dominantes e que
não se confundam e não se misturem os planos
que dizem respeito ao trabalho e à cultura
escolar e os planos que se relacionam com os
papéis da sociedade.
Num livro
publicado em 1995 e intitulado The End of
Education Neil Postman, interrogando-se
sobre a crise da escola, procura encontrar
novas narrativas que ajudem, por um
lado, a construir outros olhares e sentidos
em relação à educação, e, por outro,
rejeitem alguns deuses, que procuram
reorganizar o trabalho educativo e escolar.
Deuses da utilidade económica, do
consumismo, da tecnologia, do separatismo
étnico e cultural. Nos seus argumentos
Postman refere que a educação pública
depende de criação de narrativas que são
partilhadas e da recusa de narrativas que
contribuam para a sua alienação.
“O que torna
públicas as escolas públicas”, diz este
autor, “não é tanto o facto de terem
objectivos comuns, mas o facto de os seus
alunos terem objectivos comuns. A razão é
simples: a educação pública não serve um
público; ela cria um público. (…) A questão
essencial não se encontra nos computadores,
nos exames, na avaliação dos professores, na
dimensão das turmas ou noutros aspectos da
gestão das escolas. A questão reside em dois
pontos, e apenas em dois: a existência de
narrativas partilhadas e a capacidade destas
narrativas darem um sentido inspirador à
educação”
Neil Postman
procura estabelecer um debate que, inscrito
numa história, recusa a ligeireza e as
certezas, alicerçadas numa espécie de
“ideologias de salvação nacional”, de
“grandes soluções” com que a escola e a
educação são confrontadas. No entanto, se é
fácil estabelecer alguns consensos em torno
de um conjunto de princípios, por exemplo,
rigor, trabalho, exames, responsabilidade,
as dificuldades surgem quando se interrogam
os fins e as narrativas que os
estruturam e organizam.
Sem um
pensamento assente na história, não para que
dela se fique prisioneiro, mas para a partir
dela se poder encontrar um pensamento novo,
uma filosofia que ajude a imaginar outras
lógicas e outras formas de organização dos
espaços educativos. Para isso é preciso
entender o ensino e a educação não como um
processo de treino e de adaptação a
determinados modelos educativos e socais
pré-programados, mas sim como um processo de
compreensão e de intervenção no mundo da
cultura, do trabalho, da sociedade, com a
consciência “do inacabamento” de fala Paulo
Freire.
Por outro
lado, a educação não se joga apenas nos
espaços e nos tempos da escola. Joga-se em
geografias múltiplas em que interagem redes
diferenciadas de sentidos e onde se
confrontam olhares, saberes e experiências,
muitas vezes paradoxais e em conflito, mas
também complementares e em convergência.
As
intervenções recentes no âmbito das
políticas públicas estão, infelizmente,
ainda longe destes desígnios.
Apenas dois
exemplos.
No âmbito do
ensino superior público, em particular na
reestruturação inscrita na “Declaração de
Bolonha”, este tem perdido uma oportunidade
única de contribuir para a construção de um
de narrativas partilhadas. Basta dizer que
nas áreas que melhor conheço, as artes e a
formação de professores, poucas são as
instituições que trabalharam e trabalham em
conjunto com os diferentes sectores e
organizações sociais, educativas e culturais
no sentido de (re)imaginarem e (re)
organizarem as suas ofertas de formação.
Também o
ensino não superior tem estado prisioneiro
de quadros de pensamento e de acção política
que, imputando as responsabilidades para o
Ministério da Educação e ao Governo, que as
tem obviamente, mas esquecendo muitas vezes
que não é só o Estado que desenvolve
políticas. As escolas e os professores
também são construtores de políticas. Pelo
que fazem e pelo que não fazem.
O pensamento
burocrático, corporativo e hierarquizado não
se encontra apenas nos corredores dos
Ministérios.
Repensar a
educação pública, a escola, as políticas, os
actores e as diferentes redes de interacção,
imaginar propostas que reconciliem a
educação e a escola com a sociedade e que
chame a sociedade para uma maior
participação neste tipo de actividades
afigura-se um elemento fundamental no
trabalho a desenvolver de modo a aumentar o
compromisso social com a educação como
espaço público e a contribuir para evitar a
ligeireza com que, predominantemente, se
fala da educação, da escola, das políticas e
dos seus profissionais.
No fundo procurar outros
quadros paradigmáticos assentes na
diversidade, diferenciação, autonomia e
responsabilização em que o centro não está
nos conteúdos, burocraticamente
formalizados, muitas vezes desactualizados e
descontextualizados, mas na interdependência
entre os saberes, as pessoas, as
experiências e os contextos, entre as
diferentes comunidades de aprendizagem bem
como os modelos organizacionais que lhes dão
corpo. Que dê outros sentidos para o
trabalho da escola, para o trabalho docente,
para o trabalho dos estudantes, em que a
cultura de rigor, do esforço, da justiça, do
diálogo, da inquietação, do ‘inacabamento’,
e das parcerias societais pós-burocráticas,
se constituam como narrativas partilhadas na
construção de um bem comum, de uma sociedade
mais culta, informada, participativa e
exigente.
|