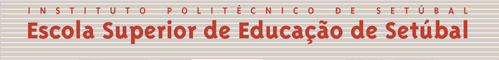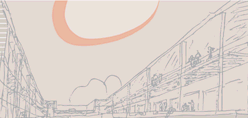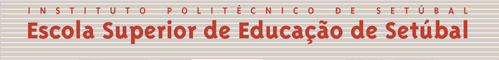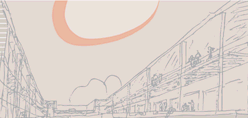Sobre o autor...
In Fernando Dacosta (2001) Nascido no Estado Novo. Lisboa: Editorial Notícias/ Obras de F.D.; [narrativa], pp. 357-366.
UM SER QUE VEIO DO FUTURO
Agostinho da Silva foi dos portugueses mais notáveis da segunda metade do século XX – como Fernando Pessoa terá sido da primeira.
Vão ser necessários, no entanto, muitos anos para que a sua obra, o seu pensamento, a sua modernidade, a sua vidência sejam compreendidos. Costuma, aliás, demorar a entender os que, entre nós, surgem adiantados no tempo.
Ele sabia que era assim.
Professor e filósofo, ensaísta e novelista, poeta e profeta, orador e investigador (de artes, de almas, de ideias, de ideais), George Agostinho Baptista da Silva nasce a 13 de Fevereiro no Porto, criando-se em Barca d'Alva, fronteira nordestina para onde os pais se haviam transferido.
Doutora-se na Sorbonne com uma tese sobre Montainge. Em Paris conhece António Sérgio, Raul Proença, Jacinto Simões (pai) e Jaime Cortesão, aí exilados.
Quando Salazar extingue a Faculdade de Letras do Porto, onde ele iniciara a docência, vai para Madrid. No regresso é colocado no Liceu de Aveiro. Demitido do ensino oficial, fixa-se em Lisboa. Dá aulas no colégio Infante Santo e explicações a particulares. Mário Soares, Lagoa Henriques, Jorge de Melo, Borges Coutinho, Futcher Pereira, Lima de Faria, Manuel Vinhas são alguns dos seus alunos.
Colabora na Seara Nova e no Diabo, publica «Cadernos de Iniciação Cultural» e «Biografias». Marca, com a sua subversão (abandona o racionalismo cartesiano da juventude), os meios intelectuais, literários, políticos, tertúlicos da época. Convive no Martinho da Arcada com Fernando Pessoa, sobre quem escreverá («a sua genialidade não está na poesia, está na heteronímia», afirma) um ousadíssimo ensaio – o primeiro entre nós.
A Pide prende-o. A ditadura fá-lo exilar-se. Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Brasil. África, Ásia. O mundo, os povos passam por si, acrescentando-o, universalizando-o.
«Tive a sorte danada de não ter seguido uma carreira. Se a tivesse seguido seria agora», ironiza-me, «um reformado melancólico fumando cigarros tristes, achando que o mundo está acabado e não há nada para fazer, exactamente o contrário do que sou e penso.»
Funda, no Brasil, quatro universidades e vários centros de estudos superiores. Torna-se amigo de Jânio e Juscelino. Liga-se à oposição portuguesa, a Sarmento Pimentel, a Rui Luís Gomes, a Rodrigues Lapa, a Casais Monteiro, a Jaime Cortesão. Casa com a filha deste, Judite Cortesão, em segundas núpcias.
Ensina um pouco de tudo: Filosofia, Geografia, Biologia, Sociologia, Antropologia, Teatro (Glauber Rocha faz-se um dos seus discípulos mais veementes), Botânica, História, Literatura. Intelectuais prestigiados e professores universitários, misturados com centenas de estudantes, passam a frequentar-lhe as aulas.
«Eu não transmito luz aos outros, tento apenas desocultar a luz que há nos outros», justifica-se. «O bom professor é o que inventa com os alunos. Quando a gente inventa ninguém pode ir contra.»
A Desgraça do vedor
Apoiado «à bengala da dúvida metódica», escreve e edita Conversações com Diotima, Herta, Reflexão, Aproximações, Considerações e Outros Textos. «Eu não tenho a certeza», adverte, «de ser o autor daquilo que realizei. Não tenho a certeza de que as ideias de alguém nasçam da cabeça desse alguém.»
Naturaliza-se brasileiro. «O que o Brasil fez comigo, logo que lá desembarquei, foi obrigar-me a dar um pulo como se tivesse pisado uma mola no chão, para cair aí pelo século XV ou XVI. Isso permitiu-me a abertura de mim próprio, eu fui outro.»
Pai de Santo na Baía, comungador de candomblés e de miscigenações se torna, então – fascinado com o mundo mágico que se lhe revela. Ao positivismo que o marcara até aí, passa a contrapor, como Pessoa, como Pascoaes, como Natália, o surreal, o oculto: «O racional só serve para chegar à fronteira do irracional, para mais nada.»
Navega contra as correntes estabelecidas pelos outros («navegar a favor do vento toda a gente faz») até as ultrapassar, os ultrapassar. «A gente deixa-se ir a boiar, de olhos abertos, depois, quando for ocasião, dá o jeito de rins que convém e safa-se.»
O golpe dos militares criou-lhe um clima difícil de aguentar. Saiu. «Tudo o que eu poderia ajudar a fazer no Brasil, fiz. Até porque eu previa que, do lado da Península Ibérica, iriam passar-se coisas que seria muito interessante ver de perto.»
Marcello Caetano autoriza-lhe, em 1969, o regresso. Cinco anos depois dá-se a queda das ditaduras em Portugal e Espanha. A Ibéria solta-se: «Tenho a ideia de que ela está em vésperas de uma nova expansão, muito mais interessante do que a anterior, porque será uma expansão do espírito, do convívio.„
Mestre no sentido amplo do termo, faz-se, pela irreverência e comunicabilidade, sabedoria e carisma, coragem e lucidez, sedução e despojamento, referência de várias gerações – em vários países e várias culturas.
«Uma das nossas desgraças é que fomos sempre», sublinha, «governados pelo Vedor da Fazenda, quando este deveria ser o simples caixa dela.»
Dos oito filhos que teve, apenas um, Pedro Agostinho (de notável parecença com ele), lhe seguiu as pisadas (é professor na Universidade da Baía), a postura, a filosofia, a ironia.
O Poder é uma vaca
Na década de 80 mobiliza, com o fogo da palavra, o fascínio das ideias, o ineditismo da cumplicidade (é a figura do velho sábio a emergir no nosso imaginário), mobiliza milhares de jovens, constituindo as intervenções que lhos dirige um dos fenómenos mais notáveis registados no País.
Os líderes da opinião e os papas do pensamento instituído sentem-se ameaçados. Cercam-no de verrinas, de 360 insídias – maneira de, entre nós, neutralizar (pelo descrédito) os que são diferentes e superiores.
Há quem lhe teça imagens de «tolinho da aldeia», de «macaquinho de zoo» – veja-se o comportamento de alguns que o entrevistaram nas (infelicíssimas) «Conversas Vadias» da RTP.
Agostinho da Silva diverte-se, no entanto. E provoca cada vez mais. A um editor que o convida a escrever a autobiografia, responde: «Óptimo, assim vou ter oportunidade de a inventar toda'; a um dirigente político que o contacta para encabeçar uma campanha contra o analfabetismo, responde: «Oh diabo, mas as pessoas mais cultas que tenho conhecido na vida são analfabetas!»; a um ministro dos Estrangeiros que o consulta sobre a maneira de Portugal melhorar as relações com outros países, responde: «Feche as embaixadas que temos e que não servem para nada, e em seu lugar abra tasquinhas com bons petiscos, boa música e gente divertida, foi assim que fizemos ao longo da história»; aos exaltados do contrapoder, contrapõe: «Ora, o governo não passa de uma vaca. Devemos dar-lhe palmadas no rabo e tentar tirar-lhe o leite, é para isso que ele serve.»
Estar solto
As excessivas exposições públicas acabam por cansá-lo. «Estar na moda é das piores coisas que há. Vou escapar a isso.» Meses depois retira-se. «Prefiro passar o tempo mais só», confidencia-me, «numa espécie de eremetismo absoluto. Não por misantropia mas por necessidade de liberdade, de estar solto, isto é, de pensar em coisa nenhuma.»
Levanta-se cedo, sobe ao Príncipe Real a receber o sol e os pombos, os vadios e as crianças. Os passos são-lhe firmes («sinto-me, aos 80 anos, melhor do que aos 20»), firmes como a ironia («nunca tive ilusões na vida, por isso nunca tive desilusões»), como o desprendimento («o que é que eu vou dizer da minha existência? Vou dizer que foi uma coisa meritória, estupenda? Várias pessoas poderão dizer isso porque estiveram do lado de arrecadar, eu não, eu estive do de entregar»), firmes como a sua determinação: «Não recebo vencimentos. Se quisesse ser dramático diria que vivo do que me dão, como o não quero, direi que me dão do que vivo.»
Encara com simpatia os que o conhecem do bairro, o reconhecem da TV e lhe dirigem perguntas, lhe captam fulgores. «O difícil na vida é saber fazer perguntas. Dar respostas todos dão, até porque as nossas escolas apenas são formadoras de respostas.»
Casa errante
A meio da manhã recebe quem lhe bate à porta – terceiro andar de um pequeno apartamento decorado por Leitão de Barros –, amigos e desconhecidos, gente que vem do mundo atraída pela força da sua palavra.
Depois da sesta, que faz todos os dias para que todos os dias pareçam dois, lê (os jornais merecem-lhe grande apreço), escreve (poemas, novelas, parábolas), policopia reflexões (como as Cartas Vária), olhar posto nos objectos em desordem, no gato em vigília, na caneta de tinta com que garatuja utopias antes de, aplicadamente, as passar pelo teclado da velha máquina de aço enegrecido.
«Sou um aldeão, comporto-me como um aldeão», exclama. «Ainda hoje, quando tenho um horário a cumprir, chego uma hora antes, como se fosse na província.»
Traduz (sabe 15 línguas) do latim as Bucólicas, as Geórgias, a Eneida, de Vergílio, e termina, pouco antes de morrer, as obras completas de Horácio e Catulo.
«Limito-me a deixar ir a minha vida por onde quiser ir», revela, «eu sigo-a pacífico na albarda do burro, pus-lhe a rédea ao pescoço já que ele sabe melhor do que eu o caminho a tomar; às vezes enganamo-nos os dois, o burro e eu.»
Gosta de sentir a brisa no rosto: «Navegar contra o vento foi a grande descoberta dos portugueses. Temos de voltar a ser portugueses, o destino vai ajudar-nos.» Gosta de sentir a luz nos olhos: «Talvez seja bom para nós não sabermos produzir mas sabermos utilizar aquilo que os outros produzem. Os chamados povos industrializados têm produzido muita máquina e têm destruído muitas pessoas. Espero que os portugueses produzam menos máquinas mas saibam mais desenvolver pessoas.»
Passa horas, manta nas pernas, livro nas mãos, virado para o Tejo: «Alguma raça de nómada deve haver em mim, mas ao mesmo tempo sou também muito caseiro, de boa vontade não sairia nunca daqui. Ser embarcadiço teria resolvido o problema, porque o navio não é mais do que uma casa errante.»
Experiência inesquecível
Acompanhar Agostinho da Silva pelas ruas de Lisboa era uma experiência inesquecível. De passo distraído, detinha-se, sem tempo (nem noção dele), ante qualquer criança, pedinte, idoso, ou cão, gato, pombo, ou dona de casa, ou montra, ou veículo que o sugestionasse. A todos, sobre todos, falava usando registos próprios para cada um, como se cada um (pessoa, animal, objecto) lhe fosse consanguíneo.
Quando entrou pela primeira vez nas Amoreiras (para uma entrevista na TSF, então instalada naquele edifício), sentiu-se deslumbrado com tanto conforto, tanta luz, tanto luxo – tanta inutilidade.
Chegámos, uma vez, a demorar um dia, das nove da manhã às sete da tarde, para irmos da sua casa, no Príncipe Real, à Galeria 111, no Campo Grande, por causa de uma exposição – tais as surpresas, os encontros, as conversas, as confidências, os pedidos, as estórias, as afectuosidades, os inesperados que a sua presença suscitou.
Tomámos café na Cister, almoçámos na Mourisca, lanchámos na Grã Fina. Ao chegarmos, seis horas e cinco quilómetros depois, ao destino, restou-nos apanhar (a mostra encerrara há muito) um táxi de regresso.
«Foi um dos espíritos mais enigmáticos, fascinantes e inquietantes de Portugal, mesmo do mundo», afirmará Pedro Borges, um dos grandes estudiosos da sua obra.
Espectador implacável de si mesmo – maneira de não se prender à precariedade da vida – apercebe-se, quando sofre os ataques mais fortes da doença, da chegada do fim.
«Bom, vais ter muita calma, com um pouco de sorte ainda podes ficar lúcido e trabalhar umas duas horas por dia. Já não será mau», autodomina-se, na ambulância que o leva para o hospital, no seu jeito de dar a volta a tudo – sobretudo ao medo. Consente em ficar internado. Depois, fendido por tromboses sucessivas, cai em coma.
«Se o destino nos der limões, façamos limonada, e se pudermos deitemos-lhe açúcar», enfatizava. O gosto, o gozo de estar nos dois lados, nos vários lados da vida, constituiu o seu maior fascínio.
«A nossa existência é um barco», dizia, «que atravessa frequentes tempestade. Estamos agora numa, e bem ruim. O segredo para resistir é não olhar pela borda fora, se não enjoamos e fazemos os outros enjoar. O segredo é olhar o horizonte, mesmo sabendo que não chegaremos lá.»
Com simplicidade e descaramento conciliava todos os contraditórios, todos os opostos, racionalismo e esoterismo, renúncia e prazer, acção e reflexão, passado e futuro, tragédia e farsa, sucesso e fracasso, feminino e masculino, novo e velho, crueldade e bondade, vício e virtude, ter e ser. Conciliava-os para os confundir, os acrescentar, os harmonizar, os neutralizar, os perturbar.
«Divirto-me sobretudo com o que não tenho, com o que me desagrada. Temos de fazer da nossa vida uma ficção para conseguirmos torná-la suportável.»
Não possuía bilhete de identidade, nem cartão-de-visita, nem número de contribuinte. Só passaporte: «Se eu tiver número de contribuinte fico na obrigação de ver o que é que o Governo faz do dinheiro dos contribuintes. E aí entro em conflito com Portugal, o que não quero. Porque estou gratíssimo a Portugal por me ter deixado nascer nele.»
Em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé, em Angola, em Moçambique, em Macau, em Timor há quem afirme dever a Agostinho da Silva algo de decisivo, de transformador da sua vida.
«Se não tivesse quase a certeza de que, em última instância, o caminho vai dar certo, porventura não me empenharia em agir, em agir pensando, em agir quieto. Só que para mim o dar certo confunde-se com o desaparecimento total das coisas. É como se fosse correndo, entusiasmado, para um ponto de completo desaparecimento com a ideia de que, nesse desaparecimento, a consciência continuará a existir.»
Gesto suspenso, olhar fundo, Agostinho da Silva («profeta do terceiro milénio» lhe chamou António Quadros) regressou lentamente, mal começara Abril de 1994, ao lugar de onde viera – o futuro.