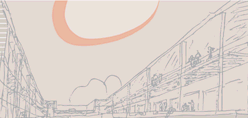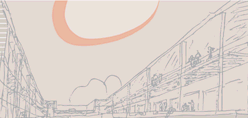Senta-se no sofá e ao longo da conversa
vai ficar cada vez mais reclinado, derramado sobre
o veludo verde do gabinete de Jorge Sampaio, em
frente do quadro do marquês de Pombal com
os arquitectos da reconstrução de
Lisboa. Sabe que dentro de poucas horas a Câmara
de Lisboa vai recusar o remate que propôs
para a Avenida José Malhoa e deixar passar
o edifício que ele próprio compara
a uma fraca imitação de La Defense.
Mas não está zangado nem azedo. Está
descontraído, disponível, faz comentários
em volta da conversa.
É neste tom que fala de janelas, num momento
em que sabe que o gravador está desligado.
“Um projecto começa por ser apenas
a ideia de um volume e é a coisa só
se complica quando começamos a meter-lhe
janelas. As janelas mudam, condicionam tudo. Por
isso é que as bibliotecas foram sempre, em
toda a História, grandes peças de
arquitectura. Não têm janelas.”
Fala baixo e devagar, por vezes cala-se, pensa completa
a resposta, um pouco como se falasse sozinho. Há
um mistério no meio disto: como é
que consegue ter sempre um cigarro acesso nas mãos?
Público – Como concilia
tantos projectos em simultâneo, alguns fora
de Portugal? Estive a tentar fazer, de memória,
um levantamento” e assim, de repente, lembrei-me
disto tudo: o Chiado, incluindo uma estação
de metro e o Grandella, o plano da Praça
de Espanha, incluindo a Companhia de Seguros Lusitânia
e a fundação Cargaleiro, o plano da
Avenida José Malhoa, a Escola Superior de
Educação de Setúbal, a Faculdade
de Arquitectura do Porto, o cinema Condes, concorreu
à Biblioteca de Paris, fez o pano de Macau.
Álvaro Siza Vieira –
Os trabalhos não se fazem na totalidade ao
mesmo tempo. Ter um trabalho para fazer não
quer dizer que se esteja a trabalhar nele. Para
dar um exemplo: para o Condes fiz um estudo prévio
e uma maquete, visto que nos projectos para a Avenida
da Liberdade, de acordo com o novo plano, primeiro
há uma proposta que é apreciada por
uma comissão e só depois da aprovação
por uma comissão e só depois da aprovação
é que se pode avançar.
Público – O Condes
está então em banho-maria?
R. – Agora eu estou à
espera, entram na minha preocupação
pessoal outros projectos. Não quer dizer
que o condes pare, porque há uma equipa que
continua a trabalhar no plano, embora não
haja a certeza de que ele seja aprovado.
Nós temos uma quantidade x de projectos,
nenhum escritório vive de um projecto só.
Eu nem sequer tenho um número exagerado.
O que eu tenho mantido é uma ligação
directa de autoria e de controlo sobre os projectos
que aceito. Não me interessa ser administrador
de uma grande empresa, gerir as encomendas através
das equipas, até porque como administrador
sou péssimo.
Público – A concepção
inicial é sempre sua?
R. – Depende muito. Há
casos onde há logo um trabalho inicial a
fazer e que alguém da equipa desenvolve.
Se for um terreno complexo do ponto de vista da
topografia, é necessário logo fazer
uma maquete do terreno. Se for complexo quanto a
número de metros quadrados e articulação
das partes do edifício, pode uma equipa começar
a estudar isto em pormenor. A decisão é
sempre minha. Tenho trabalhado sempre assim são
trabalhos de autoria, não são trabalhos
de empresa.
Público – Diz que
é um mau administrador, mas isso tudo implica
controlar os calendários para encaixar as
coisas umas nas outras.
R. – Sou um bocado como aquelas
pessoas que têm a secretária muito
desarrumada, mas controlam essa desarrumação.
É preciso gerir bem o tempo para que se possa
articular dentro dos ritmos diferentes de desenvolvimento
dos projectos, para que se possa atender aos prazos.
Há projectos que encravam porque as aprovações
demoram muito tempo, a gente julga que vai ter uma
equipa a trabalhar continuamente num projecto, mas
realmente tem que parar para pegar noutro e depois,
se calhar, a possibilidade de sequência daquele
vem na pior altura para o outro. É muito
difícil, não é um jogo planificável
rigorosamente, implica muita intuição,
a capacidade de quase improviso.
Público – Tem feito
trabalhos de dimensões completamente diferentes,
desde objectos a edifícios, e até
planos de ordenamento, em sítios completamente
diferentes e com programas completamente diferentes.
R. – Isso é uma opção
minha. Há escritórios vocacionados
para certas áreas em que se especializam.
Pessoalmente essa linha não me interessa
e penso que, para fazer um trabalho de pequenas
dimensões, é necessário passar
por um trabalho de grandes dimensões e vice-versa.
Isso dá uma sensibilidade, um domínio,
uma visão de escala muito maior.
Quem faz coisas pequeninas tem tendência a
ser pequenino, quem faz coisas grandes tem tendência
a ser pouco sensível ao detalhe, porque lida
com grandes temas, grandes áreas. Para atingir
um equilíbrio na profissão é
necessário ter a experiência das várias
escalas das várias dimensões.
Público – Continua
a desenhar objectos e mobiliário?
R. – Procuro ter tempo e
tenho-os feito. Há uns objectos que estão
em produção. É um pouco pelo
mesmo também: a noção da escala,
do espaço, grande ou pequeno, está
relacionada também com o objecto, com o móvel.
Tudo é complementar e relacionado. Por outro
lado, desenhar um móvel é bastante
gratificante como complemento de actividade. Um
edifício normalmente leva muitos anos a fazer,
é um processo longo. Com um objecto, numa
semana pode-se fazer o protótipo de uma cadeira
e depois vê-la. E ver a obra acabada é
uma experiência muito importante para nós.
É tão importante como para um pianista
ouvir as notas.
Público – Há
a diferença de dimensões, mas há
também a diferença entre os locais.
Faz trabalhos em lugares muito diferentes e diz
sempre que tem de sentir o ambiente. Chega a uma
cidade onde é um ET para preparar um projecto.
Como é?
R. – Há processos
diferentes de contacto. Há o conhecimento
da atmosfera de uma cidade, problemas específicos,
aspectos humanos, contactos pessoais. Acho que a
atenção e capacidade de percepção
e compreensão se agudizam, porque o estímulo
é muito forte. Há a curiosidade natural
de ver um meio novo, um certo encantamento. Todas
as cidades são bonitas, até as feias.
Público – Não
há nenhuma terrível?
R. – Não. O Porto
é a cidade mais incómoda que eu conheço,
mas eu gosto muitíssimo da cidade do Porto.
Não há cidades feias, há cidades
difíceis. Por exemplo Madrid não é
uma cidade fácil. Durante muito tempo eu
passava por Madrid e interessava-me pouco, gostava
era de Barcelona. Mas depois tive trabalho lá,
tive um contacto maior e andei com gente que ma
mostrou. É uma cidade difícil, a gente
não se apercebe da sua qualidade de imediato,
não é propriamente um espectáculo.
No entanto, é uma cidade com um enorme encanto,
uma cidade densa, sólida.
De maneira que isso constitui estímulo muito
forte, agudiza a capacidade de percepção,
desencadeia as ideias, no fundo. E a ideia é
o importante na arquitectura. Depois, é importante
transformar as ideias em coisas que venham a ser
parte de um corpo vivo que é uma cidade.
Público – Em Lisboa,
por exemplo, conhecia a cidade, mas nunca tinha
feito nenhum trabalho até ao Chiado. Começou
logo com um trabalho tão importante e com
tanto impacto...
R. – E conhecia muito mal
a cidade. Conhecia de dar aqueles passeios clássicos,
de ver os museus...
Público – Mas como
é que faz? Começa por passear?
R. – Em Lisboa, tenho muito
pouco tempo para passear, neste trabalho há
muito de reuniões que coordenam uma série
de donos de obra e projectistas. Não tem
dado para passear como eu gosto, sem programa, que
é uma das formas de a gente se aperceber
da cidade, vaguear, perder-se.
Público – É
isso que costuma fazer?
R. - Quando posso, quando tenho
tempo para me perder. Já me tenho perdido
nalgumas cidades.
Lisboa é uma cidade extraordinária.
É o mais variada que se possa imaginar. Há
bocados da cidade completamente diferentes uns dos
outros, bocados muito próximos, o que vem
muito da topografia da cidade, ondulada, o que cria
distâncias não pela extensão
no mapa, mas distâncias reais. Por exemplo
Alfama e a Baixa são mundos diferentes, ou
o Bairro Alto. Mas continuo a conhecer muito mal
a cidade.
Público – Tem trabalhos
em Lisboa em zonas completamente diferentes. Meteu-se
no ambiente do Chiado, que era quase um não
ambiente, e depois na Avenida José Malhoa,
que era um monte de projectos de edifícios
de escritórios.
R. – Mas o Chiado é
uma zona da cidade tão viva como era antes
do incêndio. Já não era o centro
do império, como foi noutros tempos. Mas,
mesmo destruído pelo incêndio, é
uma zona muito viva, todos os bordos do buraco da
rua Nova de Almada mantêm aquela vida, há
lojas, há cafés, e sobretudo há
o fluxo de passagem igual ao que era, se não
maior. E depois há um outro tipo de vida
diferente, que são os operários da
construção civil, os encarregados,
gente que na maior parte é de fora de Lisboa,
imigrantes. É um meio humanamente muito rico,
tal como está, e nada o destruiu, não
há um vazio.
Público – Quando as
obras acabam, fica com saudades dessa fase de crescimento
de estaleiro?
R. – Sou capaz de ter de
vez em quando, mas nós partimos para outra,
há outras obras.
Público – Como é
que são os últimos dias de uma obra?
R. – Ah, nos últimos
dias é terrível dias é terrível,
porque nós acabamos por ser empurrados para
fora da obra. Mandem lá embora os chatos
dos arquitectos. Ou o empreiteiro diz: “Acabe
lá isso de qualquer maneira, quero lá
saber, eu quero é acabar.” Isto é
uma das constantes dos dias de hoje. Ainda me lembro...e
de maneira nenhuma sou saudosista nem nostálgico,
e muito menos em relação aos anos
40,meados dos anos 50, mas numa obra pública,
fosse boa ou má arquitectura, era um ponto
de honra acabar bem. Havia uma fiscalização
muito exigente à boa qualidade da construção,
do material, mas também ao bom acabamento.
Pinturas bem feitas, uns rebocos maravilhosos. Havia
os materiais adequados, havia essa grande preocupação
de responsabilidade. Bem sei que se fazia pouquinho,
não era nada como a pressão de hoje.
Mas realmente, hoje, chegou-se a um ponto em que
o grande inimigo do arquitecto e da qualidade é
o dono da obra, não é o empreiteiro.
Público – Mesmo sendo
o Estado ou principalmente sendo o Estado?
R. – Principalmente sendo
o Estado. Para as instituições ligadas
às administrações, quer central
quer local, não há dúvida de
que, tirando excepções – como
Belém, por exemplo – a coisa é
assim: empurrar o arquitecto. É fundamental
fazer este revestimento aqui, mas não se
faz porque custa dinheiro, há desautorizações
do projectista, tudo isso acontece. Nós temos
de fazer uma luta para conseguir um mínimo
de qualidade, coisa que logicamente, é do
interesse do dono da obra. E às vezes nem
é por questões de dinheiro é
porque é preciso inaugurar no dia tal.
Público – Nesse género,
o caso mais grave será o da Faculdade de
Arquitectura do Porto?
R. – Nesse caso também
houve todos esses problemas, mas a obra está
praticamente concluída. Só que aí
é mais grave. O edifício foi feito
de acordo com um plano, que é o plano da
Universidade, com o acesso por determinada rua.
Com o edifício concluído, afinal a
rua não é deste lado, mas exactamente
do lado contrário. Parece uma anedota, mas
é o que se passa. Além disso, foi
aprovada há quatro anos e agora a obra chegou
ao fim, mas não tem água, nem luz,
nem aquecimentos, nem arruamentos.
O pólo universitário foi planeado
pela própria Universidade, em colaboração
com a Câmara. E quem se empenha na modificação
é a Universidade.
Público – É
uma situação aberrante.
R. – Completamente. Deste
exemplo nem vale a pena falar porque, de facto,
é aberrante. Referia-me a coisas que são
usuais numa fase como actual, de súbita pressão
de construção, uma enorme aceleração
na construção, sobretudo de equipamentos.
O sistema de produção e de controlo
rebentou, não é minimamente eficaz,
e eu aceito isto como uma fase transitória.
Público – No Chiado
também são problemas desses género
que se colocam?
R. – No Chiado há
problemas mas de ordem jurídica com algumas
das obras e há problemas de coordenação,
nomeadamente no que se refere a infra-estruturas,
que são problemas latentes da cidade.
Quando tomei conta do Plano do Chiado a primeira
coisa que fiz foi propor, reunindo os diversos serviços
camarários e exteriores, como a EDP, a construção
de uma galeria acessível que permitisse,
dadas algumas indefinições do programa,
quando necessário, fazer as ligações.
Era uma solução flexível e
impediria de futuro, as covas para meter o telefone
e essas coisas que nós conhecemos. Estou
convencido de que não se vai realizar, por
diferendos entre os vários serviços
e, sobretudo, porque não está ainda
neste momento definido qualquer tipo de infra-estruturas.
Público – Com uma
irritação suplementar da sua parte.
R. – Bem, uma irritação
não serve para nada. O que eu disse em determinada
altura, e isto é relativamente recente, de
há uns três ou quatro meses a esta
parte, foi: ao diabo a galeria, que se faça
de qualquer maneira, mas que se faça. Para
não acontecer, eventualmente, o que acontece
com a Faculdade de Arquitectura – edifícios
prontos sem infra-estruturas.
Como sistematicamente acontece com a habitação
social. É normal nos chamados bairros económicos
construir casas sem ruas.
Público – Quando o
engenheiro Abecassis o convidou para dirigir a reconstrução
do Chiado ou quando lhe propõem um grande
projecto, fica apavorado?
R. – Apavorado não.
Apavoradas ficam as prima-donas, as cantoras de
ópera, quando entram no palco. Mas nós
não somos prima-donas. Medimos a dificuldade
que há em cada problema e às vezes
não aceitamos trabalhos por isso. O convite
para o Chiado obrigou-me a pensar muito. De resto,
não aceitei logo, pedi um tempo para medir
a possibilidade e organizar-me para isso, para a
dimensão, para a complexidade, as negociações.
Há trabalhos aparentemente ingratos que podem
interessar, trabalhos em condições
não muito boas que podem não interessar,
depende.
Público – Quando avalia
a dificuldade, normalmente avalia por baixo ou por
cima? Por exemplo, no Chiado previa estas dificuldades
todas?
R. - Eu realmente avalio por cima,
sou muito pessimista. A avaliação
é quase dizer: isto é um buraco dos
diabos, não estou virado para aí,
vai ser uma série de maçadas. Ás
vezes demarco-me, não aceito.
Público – O seu papel,
no Chiado e principalmente na José Malhoa,
na Praça de Espanha, tem também um
lado político, uma relação
com o poder e até uma certa dose de poder.
R. – Julgo que tenho mantido
o sentido das proporções. Os arquitectos
do Marquês do Pombal também não
tinham o poder. O nosso poder é uma delegação
de poder e é muito vulnerável, dependente.
E é bom que se tenha isso sempre na cabeça
para não fazermos coisas de que depois nos
arrependemos. As posições radicais
correspondem a um sentimento de poder absoluto e
é-me perfeitamente claro que não o
tenho.
Público – Sente-se
bem nessa tentativa de consensos?
R. – Sinto-me bem se esses
equilíbrios levam a uma evolução
que eu considero correcta, no sentido de criação
de condições, criação
de ambiente. Há um pouco a ideia de que o
plano Malhoa é um remendo numa manta de retalhos,
a ideia de que é um plano muito pouco ambicioso.
Creio que é uma resposta realista aos problemas
que se punham e que não depende da qualidade
arquitectónica de cada peça, mas que,
na sua globalidade, propõe uma imagem autêntica
da maneira como se está a transformar a cidade,
e uma imagem viável em termos de sobreposição
de interesses, e coisas impostas, com complexidade.
Sendo uma operação de negociação,
criação de consensos, remendos, conduziu,
na minha interpretação, a um plano
arquitectónico de que eu não me envergonho
nem considero um remendo.
Público – A sensação
que dá aquilo que está a dizer é
que tem imensa paciência. Numa entrevista
que deu à revista da Escola Superior de Educação
de Setúbal, contou que a primeira obra que
fez foi um galinheiro e que se zangou com o dono.
Continua a zangar-se com os donos dos galinheiros?
R. – Eu era muito novo e
o galinheiro que eu queria fazer era muito feio.
Público – Por que
é que se zangou?
R. - Eu sei lá. Eu queria
um galinheiro cilíndrico e o cilindro era
esquisito para galinhas, qualquer coisa deste género.
O negociar, o diálogo, não põe
entre parêntesis o conflito, antes pelo contrário.
Quando queremos entrar em relação
com outros, seja em que campo for, a relação
assume também aspectos de conflito. Posso
ter explosões de mau génio, mas isso
faz parte de uma abertura ao diálogo. É
uma fase. Uma família que não discute
e onde há sempre uma serenidade visível
é uma família extremamente doente.
As relações fazem-se incluindo o conflito.
Não vejo como é que possa haver um
arquitecto que nas suas relações profissionais
seja sempre cordato. Como também não
compreendo o contrário, uma pessoa que esteja
sempre em discussões.
Público – Quando faz
um móvel, não tem de dar explicações
a ninguém, a não ser que faça
uma cadeira onde ninguém se possa sentar...
R. – Já fiz algumas
em que ninguém se pode sentar.
Público –... mas na
arquitectura há imensas condicionantes. Isso
não é penoso, não se sente
constrangido? Não se incomoda por não
poder fazer um galinheiro que é um cilindro,
ou quando faz um projecto para uma casa e o dono
da obra diz que não quer nada assim?
R. – Um galinheiro não
tem que ser um cilindro e isso é um episódio
de juventude. É sempre possível, mesmo
com conflitos, há sempre possibilidades.
Muitas vezes há coisas a que nós,
porque contradizem o que estamos a pensar, e no
dia seguinte é capaz de ser o início
de uma via diferente mas rica. Quanto mais o que
fazemos assimile ideias opostas, mais rico é.
Uma obra de arquitectura densa e de grande qualidade
ultrapassa o problema do gosto e inclui respostas
a muitas coisas. Há, portanto uma certa ambiguidade
na forma do edifício, na atmosfera que dá
um edifício, porque necessariamente inclui
uma quantidade de ideias e de objectivos contraditórios.
Uma obra de arquitectura não é uma
coisa que se define em duas palavras, dizendo “é
assim, porque...” Os próprios arquitectos
utilizaram “slogans” simplificativos
ao defender as suas ideias, há muitos conhecidos:
“a função faz a forma”,
ou outros que disseram “a forma faz a função”,
noutra época; ou “a arquitectura nasce
de dentro para fora”. O Mies van der Rohe
dizia: “less is more”, menos é
mais; o Venturi recentemente na luta de ideias,
dizia ”less is boring”, menos é
aborrecido.
No fundo, a construção do projecto
inclui as coisas mais contraditórias e é
exactamente pô-las em relação
que define a qualidade: formar uma síntese
a partir de ideias opostas. Esta janela fica mal
lá fora, na fachada, mas é precisa
cá dentro. Todas as transformações
que se fazem para que ela cumpra a sua função
de iluminação do interior e fique
bem na fachada, tudo o que é preciso fazer
em torno disto, mais tudo o que é preciso
para que a casa ventile, para que o sol não
bata com demasiada violência, são tudo
coisas opostas que é necessário utilizar,
são os ingredientes da arquitectura para
chegar a um resultado claro.
Público – Quer dizer
que, quando pensa inicialmente um projecto, conta
com as contradições que aí
vêm?
R. – Os constrangimentos
que existem são instrumentos, são
a forma de fazer a arquitectura, e é assim
que os encaro. Ainda agora tive um problema. Um
senhor quis construir um grupo de casas num terreno
maravilhoso, perto de Paris, e convidou não
sei quantos arquitectos de vários países
e disse-nos: “Vamos fazer casas, estão
aqui os lotes de terreno, tiramos à sorte
o que fica num ou noutro, fazem como quiserem, o
dinheiro é este, é dinheiro suficiente,
as casas nem vão ser habitadas, o que eu
quero é plena liberdade”. Julgo que
todos os arquitectos disseram: ”Mas é
que nós dessa liberdade não queremos.”
Essa liberdade significa na realidade um vazio total,
não termos essa riqueza que anima as pedras
para construir as fachadas, que são feitas
de desejos, de contradições, de repúdios,
de apoios. Isso é quase um trabalho impossível.
Público – Por isso
é que arquitecto Souto de Moura disse, num
colóquio, que o arquitecto Siza Vieira tem
uma relação muito intensa com as obras,
uma relação quase erótica?
R. – Não notei sintomas
de erotismo na minha relação com nenhuma
obra. Era bom e tal, mas não bem assim. É
uma imagem muito bonita e estou a percebê-la,
é de um amigo e de um grande arquitecto.
É uma maneira indirecta de dizer uma relação
que eu conheço muito bem com uma obra. Quando
eu falava em todo este mundo de contradições
e de desejos que é necessário, referia-me
a uma relação muito intensa, um assumir
muito intenso dos problemas da construção
de uma obra. Porque, sem isso, o exercício
da arquitectura é uma coisa chatíssima,
aborrecidíssima. Se não há
isso, essa intensidade, esse desejo, é um
trabalho rotineiro: tem que se ir à câmara,
pedir as licenças, preencher papéis,
fazer desenhos, tracinhos, ou ir para o computador
e bater os textos.
Público – Quando resolveu
ser arquitecto sentia que ia ser assim ou pensava
que a arquitectura era ter grandes ideias e fazer
o que queria?
R. – A ideia que tinha era
de tirar o curso de escultura, quando era catraio.
Para não ter grandes conflitos de geração,
porque meus pais não gostavam nada, pensei
em entrar no curso de Arquitectura e depois mudei
pacificamente. Entrei para uma escola que tinha
Pintura, Escultura e Arquitectura, como primeiro
ano praticamente comum. Nem era ainda escola superior,
era só a Escola de Belas artes do Porto,
depois foi crescendo. Não havia ligações
familiares à arte, houve um fotógrafo,
daqueles pioneiros, mas não creio que tenha
tido qualquer influência nisso. Depois comecei
o curso de Arquitectura e acabei por não
mudar.
Público – Fez bem?
R. – Ah, fiz! Eu gosto, continuo
a gostar. Acho que fiz bem.
Público – Vai trabalhar
agora, na estação de Metropolitano,
com o Ângelo de Sousa por proposta sua. Já
alguma vez trabalhou com ele?
R. – Não nunca trabalhei.
O Metropolitano tem entregue o trabalho a vários
artistas, sempre com muita preocupação
de qualidade, e eu sugeri o Ângelo de Sousa
porque gosto muito do que ele faz, porque corresponde
à ideia que eu tenho de colocação
de obras de arte como parte da arquitectura.
É um campo que não tenho praticado.
A arquitectura em si já é uma obra
de arte e não tem feito muita falta na maneira
como eu tenho pensado os edifícios. Mas também
não tive oportunidade. Nas escolas que estou
fazer, quer a Faculdade de Arquitectura do Porto
quer a Escola Superior de Educação
de Setúbal, gostaria de ter uma verba para
gastar em obras de arte e poder propor um artista
ou dois, pensar na sua participação
num ou noutro espaço. Mas essas verbas não
foram facultadas, não há dinheiro
para a arte. Bem, eu lá faço arquitectura,
também acho que é arte e, portanto,
alguma arte têm a contragosto.
Público – Alguns arquitectos
dizem que o arquitecto Siza Vieira já quando
andava na Faculdade era o maior, tinha qualquer
coisa de diferente. Outros detestam o seu trabalho.
Demorou muito até ao reconhecimento público,
mas agora é uma figura consagrada. Como é
que se sente no meio disso?
R. – Uma pessoa tem que se
distanciar um pouco dessas coisas. É verdade
que as pessoas me reconhecem na rua, isso por vezes
até é bastante incómodo. Às
vezes vou a entrar num restaurante e alguém
que venha comigo, atrás, depois diz-me que
se viraram não sei quantas cabeças.
Eu não vejo, procuro ir com o olhar fixo
no infinito.
Mas não há uma visão de unanimidade,
o que até seria insuportável, seria
suspeito. Neste momento, estou com extremas dificuldades
para aprovar alguns projectos. O clima normal em
que me movo não é de reconhecimento,
mas de dificuldade.
Público – Mas gosta,
precisa de que gostem de si?
R. – Alguma coisa nós
precisamos, mas também não precisamos
de uma multidão. Às vezes basta que
gostem duas ou três pessoas, no limite bastará
uma. Na verdade, o que se passa é mais complicado:
uns gostam, outros não gostam mesmo. Também
se não fosse assim, isso significaria uma
certa morte prematura, no meu caso tenho 58 anos.
Porque as pessoas, por vezes, contam que A ou B
faça uma coisa tranquilizante, que já
viram, que gostaram. E se não é assim,
ficam em pânico.
Público – Já
lhe aconteceu dizerem-lhe: não era nada disso
que estávamos à espera, queremos uma
coisa como aquela que fez ali?
R. – Isso acontece-me quase
constantemente. No Chiado houve reacção
em meios profissionais ao facto de ir conservar
as fachadas. Disseram que era uma atitude conservadora,
houve uma espécie de desapontamento. Quando
fiz o projecto de Berlim. Felizmente, não
há esse apaziguamento, seria um sintoma muito
mau.
Público – Vai continuar
a fazer coisas que as pessoas não esperam?
R. – Não é
com esse sentido. As coisas é que apresentam
problemas diferentes e, portanto saem diferentes
de outras eventualmente, como imagem, as pessoas
esperam. A arquitectura tem esse aspecto frágil
de expectativa, de atenção à
imagem, mas a arquitectura não é uma
imagem, não é uma escultura. A arquitectura
é uma coisa que engloba vida, espaço
interior, contradições. Contextos
diferentes dão edifícios diferentes.
Embora eles não sejam tão diferentes
como isso.
Para conhecer um edifício não basta
olhar e dizer “este é assim”.
Um edifício é uma coisa onde se vive,
é uma coisa de dia e outra de noite. A impressão
da imagem é uma coisa muito frágil,
muito mais frágil em quem não tenha
uma preparação especializada. É
uma reacção afectiva, subjectiva,
e um edifício ultrapassa a afectividade e
a subjectividade. Com uma música nós
podemos não gostar e, depois, ouvimos algumas
vezes e passamos a gostar. Eu lembro-me de edifícios
que achava horríveis há 30 anos e
que, neste momento, acho edifícios de grande
qualidade.
Público – Acha que
é uma estrela?
R. – Ah, não. Naturalmente,
acho que não. Sou um introvertido, como é
que posso ser uma estrela? Uma estrela tem um desejo
de extroversão. Eu pessoalmente não
sou, humanamente não tenho o perfil psicológico
de uma estrela, de maneira nenhuma. Passo despercebido
em toda aparte. Agora, como a televisão me
fez duas entrevistas, é que já não.
|