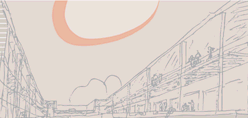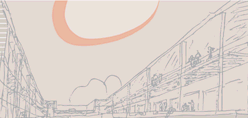(sobre a arquitectura da
Escola Superior de Educação de Setúbal,
Projecto de Álvaro Siza Vieira)
Ao comentar um passo de Schopenhauer em que este
filósofo afirma que a arquitectura só
existe enquanto Arte contra o peso e o suporte que
a definem, contra a sua própria materialidade
afinal, Francesco Dal Co escreveu o seguinte:
(...) De facto, se tivermos em consideração
mesmo a mais articulada construção
espacial, a sua experiência só é
possível se o observador possuir a capacidade
de lhe atribuir um significado representacional
que transcenda os factos objectivos da relação
estabelecida entre ele próprio e o ambiente
em causa (...) *.
Por outras palavras: só se poderia experimentar
a arquitectura referindo-a ou a realidades que lhe
são exteriores (memórias pessoais,
imagens) ou a outros exemplos arquitectónicos.
Em ambos os casos, a experiência da arquitectura
assentaria num raciocínio elaborado de modo
a relacionar a experiência concreta e pessoal
de um determinado ambiente construído com
outras experiências ou saberes. A tese formulada
por Dal Co parte do pressuposto (aceitável)
de que a relação primordial e imediata
estabelecida entre o Sujeito que experimenta um
edifício e este edifício em si é,
pelo contrário, de carácter não
representacional. Essa relação não
constitui uma verdadeira experiência porque
se situa num domínio (o do “instinto”)
não formulável em linguagem e, portanto,
incompreensível.
Suponhamos, contudo, que existe de facto esse primeiro
momento no qual um edifício nos afecta o
corpo, os sentidos e os sentimentos pelo clarão
da sua presença material em bruto, antes
mesmo de nos pormos a pensar sobre ele e sobre as
relações que mantém com outras
experiências nossas ou com as memórias
e imagens que suscita. Suponhamos que há
um Primeiro momento, ”Instituto” por
assim dizer.
A consideração deste momento puramente
sensorial da experiência (arquitectónica
ou outra) só é possível, bem
entendido, à custa de uma abstracção.
De facto, a maneira como o corpo e o espírito
do passeante são afectados primordialmente
pelo ambiente está desde logo contaminada
por memórias, culturas, outras experiências.
Ou seja, é discurso, sabedoria, memória,
comparação, desde o primeiro instante.
Creio que a especificidade mais radical da arquitectura
de Álvaro Siza (aquilo que por vezes se designa
pela sua “força poética”)
reside no modo como provoca uma “redução”
deste género, uma espécie de suspensão
do raciocínio, forçando violentamente
uma experiência “primitiva”, “originária”,
da arquitectura.
Especialmente depois da Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto (obra do mesmo género
da Escola Superior de Educação de
Setúbal), os Edifícios de Álvaro
Siza abrem como que um súbito abismo na consciência
através do qual se entrevê, por momentos,
o processo de origem do Mundo construído.
Face a este momento, o espírito fica desarmado,
reduzido a uma espécie de infantilidade (ou
ingenuidade) espantada.
Recordo com grande nitidez a manhã muito
quente de Verão em que percorri o edifício
da ESE (ainda “em tosco”) pela primeira
vez. Fiquei profundamente surpreendido comigo próprio
ao sentir-me reagir do mesmo modo (exactamente do
mesmo modo) como reagira um ano antes ao passear,
também pela primeira vez, nos pavilhões
da FAUP: parado no começo da galeria suspensa
que percorre o corpo Sudeste da ESE, apanhei-me
de repente a rir.
Ria-me exultantemente, como se explodisse. Mas
também com surpresa e divertimento, à
maneira de um miúdo que vê um balão
colorido fazer-se repentinamente ao voo. Depois
fiquei estupefacto, sem pensamento, sem linguagem
– e foi num silêncio quase comovido
que percorri a galeria e o resto do complexo.
Com excepção daquilo que experimentei
perante alguns quadros de um pintor que vale a pena
nomear aqui, e frente a certas paisagens, há
muito tempo que nenhum facto me afectava daquele
modo. Desde então, sempre que escrevo sobre
a arquitectura de Álvaro Siza (ou penso no
projecto de uma pequena capela de Vítor Figueiredo),
não tenho feito outra coisa senão
procurar um discurso para o meu riso. O que se segue
é mais uma tentativa de o encontrar.
Suponho que o facto de me rir ocorria já
num segundo momento, como resposta conceptual (ou
melhor, resultante do desconforto da consciência)
ao in formas arquitectónicas sobre os meus
sentidos. Ri-me antes de procurar razões
para esse impacto.
O que me surpreendeu foi a distância existente
entre formas arquitectónicas e aquilo que
me é sempre banalidade do preenchimento de
uma função. A galeria suspensa onde
me encontrava, por exemplo, percorre até
ao fundo um longo espaço longitudinal não
tocando na parede que o separa do exterior; esse
espaço é iluminado por uma série
de janelas que vão descendo pela parede abaixo
espalhando a luz simultaneamente pelos dois pisos;
não há duas fiadas de vãos,
uma sobre a outra, ou uma única fiada rigorosamente
alinhada; as janelas, ao descerem, dão ao
espaço uma enorme profundidade; rompem-lhe
a escala e as dimensões através da
luz, fazendo com que a galeria “flutue”
num espaço de definição incerta.
O recurso às janelas que descem é
completamente inesperado no sentido de não
habitual, mas também porque está de
tal modo para além das possibilidades que
podíamos imaginar que nos faz ver e sentir
tudo de novo, tornando-nos inocentes, principiantes.
Sucede algo semelhante com os pilares que sustentam
a pala que corre em volta do pátio central:
a sua forma surpreendente (onde depois se reconhecem
outros pilares ou formas usadas por Siza numa loja
de Lisboa ou em Haia), os dois pilares que arrancam
de uma base única erguendo-se inclinados
provocam o mesmo efeito de rompimento entre a forma
e a função que cumpre.
Lembro-me ainda da entrada, “abatida”
e “deformada”, da caixa de escadas de
planta ogival, do grande espaço virado a
Sudoeste cuja cobertura está esburacada por
um óculo oval, da escada que daí arranca
parecendo perder-se na cobertura, da grande janela
aberta na biblioteca que, ao dar para uma passagem
estreita, só acolhe luz zenital funcionando
como um enorme écran reverberante.
Cumprir uma função é também
fazer referência a um sítio (ou “integra-
-se” nele, como se costuma dizer). Inesperado
na ESE é o modo como o complexo volta as
costas à pendente e se encaixa numa zona
baixa, enovelado em volta de um pátio do
qual não se vê a paisagem.
Teríamos então o que torna a arquitectura
de Álvaro Siza surpreendente seria a ultrapassagem
da funcionalidade arquitectónica em favor
de algo mais abstracto situado no domínio
da forma em si. Sucede, todavia, que todas as formas
da ESE a que fiz referência são funcionais:
as janelas iluminam, os pilares sustentam, as escadas
dão acesso, o pátio está abrigado
do vento, etc.
Recordo então certas palas que dão
sombra a janelas da FAUP ou do jardim infantil de
Penafiel (entre outros casos): a sua forma é
absolutamente literal; se para orientar a luz num
determinado sentido era necessário entortar
a pala ou torná-la assimétrica, foi
isso que se fez. Precisamente isso. E também
aí senti a brutalidade da surpresa não
porque houvesse uma diferença ou distância
entre a forma e a função, mas porque
havia, pelo contrário, uma literal coincidência
entre elas.
O Belo resultaria aqui do útil. Mas, neste
caso, existiria como que um rompimento entre a forma
propriamente dita e o seu efeito estético
sobre nós; o facto de considerarmos favoravelmente
uma determinada pala, por exemplo, deriva de que
ela nos surpreende no modo como “responde”
à sua função e não de
que a pala em si seja bonita, independentemente
da função que cumpre.
O que sucede sempre na arquitectura de Siza, portanto,
quer haja correspondência entre a forma e
a função, quer ela pareça não
existir, é que a distanciação
entre a utilidade que reconhecemos na arquitectura
e o modo concreto como ela em cada caso se afirma
resulta afinal na mais íntima solidariedade
entre os dois aspectos. Em qualquer dos casos, o
ponto de partida da experiência desta arquitectura
reside no reconhecimento do facto de que ela não
é uma actividade puramente representacional
ou formal tendo as suas possibilidades circunscritas
pelo que funciona. Qualquer pessoa sabe (e sente)
de imediato que a arquitectura é, antes de
mais, um procedimento técnico destinado a
cumprir determinadas funções com meios
muito concretos. As funções primordiais
são as de abrigar, dar acesso e iluminar;
trata-se de limitar e cobrir espaços, de
delinear percursos, de abrir vãos, criar
lanternins, dispor lâmpadas, etc.
Mas a prisão à funcionalidade, longe
de limitar a pregnância e o significado das
formas, exalta-os. Sem a consideração
da utilidade não pode haver uma experiência
estética específica da arquitectura
– que se situa, por isso, num domínio
diferente do da Arte.
O sentimento da ligação necessária
entre forma e função criado pela arquitectura
de Álvaro Siza na ESE resulta, paradoxalmente,
de uma antagonização dos dois termos,
um procedimento essencialmente conceptual que cria
no passeante uma questão que é simultaneamente
da ordem do instinto (do corpo) e da inteligência
(do raciocínio).
Não se trata, de facto, de uma experiência
simplesmente “corporal” da arquitectura.
Reconhecer a utilidade de certas formas não
depende do modo como nos afectam pelo seu peso,
a superfície ou volume que ocupam, a sua
cor, a sombra que projectam, etc. A arquitectura
de Siza não é “expressionista”,
quer dizer, não é concebida como uma
espécie de “máquina” de
produção de efeitos corporais.
O procedimento projectual de Álvaro Siza
reconduz deliberadamente o passeante a um estado
“primordial” do arquitectar ao recusar-lhe,
pela evidência das formas, a experiência
de uma função linearmente “cumprida”
(que o tranquilizaria numa ideia puramente técnica
da arquitectura), afastando-o ao mesmo tempo, através
da “estranheza” dessas formas, do conforto
de uma apreciação evidentemente artística.
Este procedimento passa pela recusa de qualquer
problemática contemporânea do Belo.
Na estética actual, o Belo é uma questão
de gosto e de formação do gosto: qualquer
forma pode ser bela, dependendo sempre da apreciação
subjectiva do artista e do observador. Não
sucedia o mesmo no que respeita à Arte antiga
para a qual existiam referências exteriores
ao campo próprio da estética: a realidade,
uma história a contar, etc. Na Arte antiga
podia existir um rompimento entre forma e função
e é sempre mais ou menos com isso em mente
que se distingue classicismo (acordo “harmonioso”
entre forma e função), maneirismo
(desajuste), barroco (exponenciação
das formas).
As formas da ESE, ou de outros edifícios
de Álvaro Siza, não possuem a proporção
e a harmonia que advêm de uma resposta esteticizada
à função (ou seja, não
participam da compleição clássica),
nem a expressividade que lhes adviria do desejo
de afectar sentimentalmente o observador (quer dizer,
não são “românticas”
ou barrocas), nem tão-pouco evidenciam a
sua própria autonomia relativamente à
função, como é característico
do maneirismo. Não creio que seja útil
pensá-las em nome de uma qualquer destas
teorias. De facto, a arquitectura (esta arquitectura,
em todo o caso) situa-se aquém (ou para além)
da Arte e o rompimento entre forma e função
que nela se verifica não aspira a obter efeitos
estéticos de harmonia entre ambos os pólos
ou de expressividade formal.
Ao quebrar aparentemente a relação
entre a função e a forma, a arquitectura
obriga o passeante a ver e a compreender a especificidade
de um método. Na arquitectura de Álvaro
Siza nada é “natural” ou “evidente”.
Cada pormenor chama a atenção para
a tortura a que foi necessário submeter o
betão de modo a afeiçoá-lo
a um objectivo prático. Assim se dá
a entender que “cumprir uma função”
não é uma questão simples mas
o produto de uma escolha complexa.
Este procedimento “conceptual” torna-se
tão obsessivo e intrigante para quem o experimenta
que acaba por evacuar da arquitectura a facilidade
de um discurso de comparação com outras
experiências e memórias, abrindo o
“abismo” que referi há pouco.
Trata-se de recusar artificialmente (deliberadamente,
com esforço, sem naturalidade) tanto a “Arte”
(a liberdade subjectiva das formas) como o “design”
(a harmonia entre a forma e a função),
de modo a restituir ao passeante a experiência
“primordial” da construção
do mundo, a da sua dimensionação,
limitação e funcionalização.
Só através deste procedimento (que
deixa marcas de “fealdade” e “desconforto”
nas formas arquitectónicas) podemos experimentar,
por um fugaz momento, a Epifania do ambiente construído
que surge perante os nossos olhos como se estivéssemos
no primeiro dia da criação do Mundo.
Nas paredes e nos vãos, nas galerias e escadas,
nos pátios e passagens da Escola há
como que um estádio de equilíbrio
provisório encontrado pelas formas funcionais
no tumulto arbitrário da procura de uma forma
final. Na arquitectura de Siza, o Mundo não
emerge para a Harmonia mas para a Utilidade. Emerge
branco, limpo, liso anguloso, assimétrico,
de formado. O passeante olha então, para
o que foi feito e ri-se.
Não se espere, das galerias e salas da ESE,
o bonito ou o puramente funcional. Espere-se o que
se deve esperara: a Arquitectura, quer dizer, o
Princípio.
Paulo Varela Gomes
|